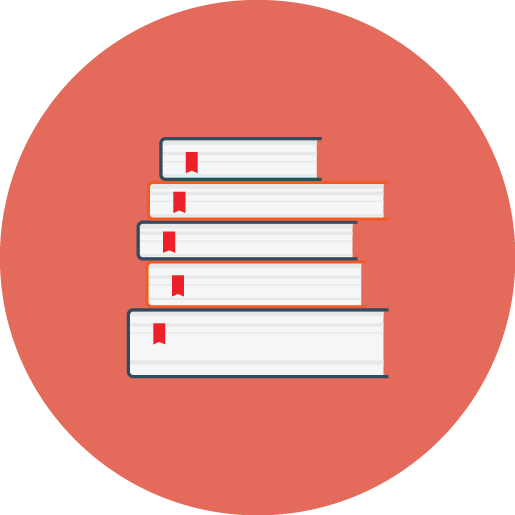Introdução
Atualmente, muito se discute a respeito do processo de inclusão na educação contemporânea, dessa forma, caro(a) aluno(a), elaboramos esta unidade pensando na construção de uma escola inclusiva de qualidade, que visa um processo de ensino e aprendizagem significativo e de qualidade.
Portanto, abordaremos, primeiramente, a visão da comunidade escolar e a política de inclusão, ou seja, como esse processo de inclusão ocorre sob a visão de todos os participantes ativos de uma escola; faremos uma breve exposição sobre os educadores envolvidos nesse processo de inclusão, bem como a sua formação para que a aprendizagem se efetue significativamente.
Abordaremos, ainda, o currículo do ensino regular e as adequações curriculares para a educação inclusiva e, por fim, discutiremos sobre a diversidade no ensino regular.
Esperamos contribuir positivamente para a sua aprendizagem!
A Comunidade Escola e a Política de Inclusão
Nos dias atuais, muito se discute sobre o processo de inclusão dentro do ensino regular. Sendo assim, para que essa inclusão ocorra de forma satisfatória, visando um ensino de qualidade, é necessário que todos os atores inseridos no processo educativo contribuam para a formação desta escola, portanto é preciso que todos os envolvidos estejam aptos a mudanças, pois o ambiente, os profissionais que trabalham na escola e o currículo precisam ser adaptados para atender com qualidade todos os educandos respeitando suas diferenças.
Sob tal perspectiva, é válido salientar que a conscientização da escola e dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem deve estar descrita no Projeto Político Pedagógico da escola, ou seja, no respectivo documento deve constar a preocupação da escola com a inclusão social, especificando quais são suas práticas/ações/adaptações do currículo para a interação social, sendo assim, segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001, p. 33), um projeto pedagógico inclusivo
Deverá seguir as mesmas diretrizes já traçadas pelo Conselho Nacional de Educação para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional de nível técnico, a educação de jovens e adultos e a educação escolar indígena. Entretanto, esse projeto deverá atender ao princípio da flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso escolar.
Corroborando com as Diretrizes, devemos observar que o desenvolvimento da aprendizagem será avaliado permanentemente por uma equipe que envolva todos os profissionais que acompanham o aluno de inclusão, para que suas dificuldades e potencialidades sejam identificadas e, consequentemente, encaminhadas para as melhores alternativas de atendimento desse aluno, bem como recorrer a uma equipe de atendimento multiprofissional (médico, fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistência social, entre outros), visando a aprendizagem significativa desse aluno.
No mais, é de suma importância que a comunidade escolar auxilie na construção de uma escola inclusiva, sendo assim, cabe à gestão da escola promover ações que coloquem toda a comunidade a par do que significa esta inclusão educacional e como ela é vista dentro da escola que cerca toda essa comunidade.
Dessa forma, o ambiente e o caminho percorrido até a escola é outro elemento que precisa ser adaptado no que se refere à educação inclusiva, percurso do aluno acessível, assim, o Art. 3º da lei 13.146, de julho de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu inciso I, explica
Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O respectivo artigo ainda relata a garantia de outros recursos de acesso, por exemplo: tecnologia assistiva, quebra de barreiras que impeçam sua participação social (urbanística, arquitetônica, transporte, comunicação e informação, atitudinais e tecnológicas), mobiliário adequado, bem como atendente pessoal, profissional de apoio e acompanhante, proporcionando, assim, mobilidade ao educando.
O inciso III, do Art. 59, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, descreve que o ensino deve ser promovido por “professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educando nas classes comuns”, diante disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Art. 28 (2015), afirma que é incumbido ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar,
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio.
Considerando tais aspectos, notamos a importância do trabalho dos agentes envolvidos no processo de inclusão, cujo objetivo consiste em garantir os direitos dos alunos com necessidades especiais, ou seja, mais do que incluir e integrar, devemos priorizar a interação de todos, promovendo o diálogo entre funcionários, alunos, família e comunidade, pois, apesar de as políticas públicas nacionais terem alcançado melhorias significativas no âmbito da educação inclusiva, observamos que são muitos os desafios e metas que a educação especial encontra para a efetivação da inclusão no ensino regular, no que se refere ao cenário atual.
SAIBA MAIS
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 discorre o seguinte:
1º- Haverá, quando necessários, serviços de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 2º- O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 3º- A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem como início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil."(BRASIL, 1996, Cap. V, art. 58).
Para saber mais sobre essa lei, acesse: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm>.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Esse desafios e metas não diferem da educação atual, isto é, a inclusão nacional e efetiva é uma meta proposta na Lei nº 13.005, de junho de 2014, inserida no Plano Nacional de Educação - PNE, o qual direciona vinte metas e estratégias para serem cumpridas no período de dez anos, como já mencionamos anteriormente, assim, a meta quatro, apresenta o seguinte objetivo:
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados (BRASIL, 2014, p. 24).
Concomitantemente a esses objetivos, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007, p. 8) busca garantir
Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; Atendimento educacional especializado; Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; Participação da família e da comunidade; Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
Observamos, ainda, as seguintes estratégias definidas pelo PNE (2014) e que se referem à forma como a comunidade escolar deve atuar perante a escola inclusiva:
Promover a articulação intersetorial entre os órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, a fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e adultos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, para assegurar a atenção integral ao longo da vida (BRASIL, 2014, p. 24).
No entanto, sabemos que, apesar das conquistas, os desafios para efetivação dessa meta e de todas as políticas públicas descritas anteriormente estão relacionados à promoção da “universalização, com acessibilidade ao ambiente físico e aos recursos didáticos pedagógicos” (2014, p.2 5), pois, de acordo com Oliveira e Leite (2007), esses desafios estão ligados, principalmente, a desafios político-administrativos e desafios político-pedagógicos, os quais impedem a construção de um sistema educacional inclusivo de qualidade, constituindo-se na estratégia de articulação intersetorial como a alternativa mais viável e próxima para a construção não somente de uma escola inclusiva, mas de uma sociedade inclusiva.
REFLITA
O Papel da Comunidade Escolar e a Educação Inclusiva
É válido ressaltar a importância de um professor estar capacitado para poder atender um aluno de inclusão e, consequentemente, desenvolver diferentes habilidades desse aluno. Entretanto, pouco pensamos no papel da comunidade escolar nesse processo de educação inclusiva. Sendo assim, como deve ocorrer, de fato, a participação dessa comunidade no processo de inserção de uma educação inclusiva?
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Os Educadores e a Educação Inclusiva
Já vimos que muito se tem discutido a respeito de uma educação inclusiva, entretanto, devemos ter em mente que a inclusão é a ação de incluir, ou seja, considerar pessoas que não faziam parte de determinados grupos participantes destes grupos, melhor explicitando, tornar essas pessoas integrantes ativos da sociedade em que estão inseridas, um ato de igualdade, sem sofrer preconceitos ou discriminações.
Sob esse viés, dentro de uma escola que comunga dos desafios de uma educação inclusiva, o comprometimento do professor para uma aula de qualidade é de extrema importância para os seus alunos.

Fonte: Wavebreak Media Ltd, 123RF.
Trabalhar com o aluno com necessidade educacional especial é de suma importância para o seu crescimento na sociedade, ou seja, o profissional capacitado sabe acompanhar e intervir no que é necessário, visando sempre o desenvolvimento significativo de seu aluno.
No entanto, todo o planejamento do professor é voltado para este alunado. No momento em que ele recebe em sua turma um aluno com necessidades específicas, torna-se necessário que seu planejamento seja flexível a ponto de oportunizar modificações efetivas sem, contudo, minimizar sua qualidade. Essa flexibilização curricular deve englobar toda a prática pedagógica do professor. O planejamento de suas atividades deve considerar as formas diferentes de aprender dos alunos (UREL, 2011, p. 89).
Sendo assim, é válido ressaltar a importância de o professor elaborar um planejamento flexível, que busque novas metodologias, estratégias e recursos que possam abranger uma prática construtiva para o crescimento desse aluno, tanto no que se refere à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Assim, numa proposta inclusiva de educação infantil, o currículo e os objetivos gerais são os mesmos para alunos com necessidades educacionais especiais, não requerendo um currículo especial, mas sim ajustes e modificações, envolvendo alguns objetivos específicos, conteúdos, procedimentos didáticos e metodológicos que propiciem o avanço no processo de aprendizagem desses alunos (MORAES, 2006, p. 17).
No mais, devemos ter em mente que os conteúdos abordados pelos professores devem conter estratégias que estimulem o aluno incluso em sala, enfatizando o seu conhecimento de mundo e explorando suas habilidades, assim, o professor deve ser o mediador, desempenhar o papel de instigar o aprendizado e o convívio em sala de aula com os outros alunos, fazendo com que o aluno com necessidades especiais interaja com o conhecimento e com os demais alunos da sala, para que isso ocorra, o professor deve ser preparado para a educação inclusiva.
O nível de formação para professores especialistas deve preparar os profissionais para exercer funções de organização das ações pedagógicas, orientações e acompanhamento de projetos educativos com outros professores que exerçam a docência em serviços especializados (MIRANDA, ACQUA, HEREDERO, GIROTO, MARTINS, 2013, p. 44).
Entretanto, sabemos que muitas escolas ainda não suprem essa demanda de professores especializados em educação especial e, muitas vezes, colocam o professor sem nenhum preparo para trabalhar com alunos com necessidades especiais, comprometendo, dessa forma, a proposta de uma educação inclusiva de qualidade.
Por outro lado, notamos que várias escolas já estão na busca contínua para capacitar esses profissionais. É válido salientar, ainda, que muitas escolas trabalham somente com um profissional para oferecer subsídio aos professores. Esse profissional pode acompanhar e orientar os professores, acompanhar os alunos com necessidades educacionais em sala, acompanhar as reuniões de pais, orientando sobre como participar ativamente da vida escolar de seus filhos. Também esse profissional pode acompanhar o aluno em uma sala de recursos e, dependendo do grau da necessidade educacional, incluir um professor que acompanhe o aluno em todas as atividades, em todas as etapas do ensino regular, desde a educação infantil.
É importante que a educação infantil se perceba imprescindível no desenvolvimento e aprendizagem de alunos com deficiência, considerando seu espaço privilegiado para oportunizar experiências significativas que possibilitarão a esses alunos permanência nos níveis mais elevados de escolarização (UREL,2011, p. 89).
Por fim, devemos considerar que para que aconteça uma inclusão educacional significativa, é de suma importância a qualificação profissional, ou seja, a escola deve ter uma sala de recursos, a sala de aula adaptada para atender este aluno, um currículo adequado e professores especializados para promover um ensino de qualidade, visando o desenvolvimento do conhecimento e das habilidades do aluno com necessidades especiais, contribuindo para o crescimento físico, psicológico, intelectual e social do respectivo aluno, promovendo sua integração educacional e social.
O Currículo do Ensino Regular e as Adequações Curriculares para a Educação Inclusiva
Ao mencionarmos sobre o currículo do ensino regular e a organização da educação especial para a educação inclusiva, devemos nos remeter a uma história marcada por lutas constantes, no que se refere à criação e efetivação de políticas públicas educacionais, que visem a manutenção dos direitos humanos. É válido lembrar que essas lutas são políticas, sociais e pedagógicas e têm como objetivo primordial a igualdade social, para que, reconhecendo as diferenças de quem possui necessidades educacionais especiais, quebre-se o paradigma inclusão/exclusão dentro e fora da escola.
Dessa forma, devemos voltar nossa leitura para um pouco da história da inclusão dentro da educação brasileira, ou seja, antigamente, a educação especial substituía o ensino comum, os alunos com necessidades especiais, quando estudavam, eram direcionados para instituições especializadas que atendiam os alunos em conformidade com os testes psicossomáticos, classificando esses alunos em “normais/anormais”.
No mais, observamos, ainda, que o atendimento às pessoas com deficiência, no Brasil, segundo o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007), teve seus primeiros marcos, em 1854, primeiramente, com a criação do Instituto dos Meninos Cegos, o Instituto de Surdos Mudos, em 1857, o instituto Pestalozzi para o atendimento às pessoas com deficiência mental, em 1926, a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, em 1945, e em 1954 Helena Antipoff cria a Sociedade Pestalozzi para o atendimento educacional Especializado para as crianças com superdotação, conforme já foi mencionado anteriormente.
Sabemos que foi por meio da Constituição Federal de 1988 que se iniciou uma política efetiva de inclusão, promovendo a educação como direito de todos (art. 205), bem como a garantia, no seu artigo 209, inciso III, de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, promovendo, desta forma, um grande avanço para a inclusão educacional do aluno com necessidades especiais.
Sob tais perspectivas notamos ainda que a década de 1990 foi marcada por várias conquistas, no que se refere à educação inclusiva, podendo ser observadas a seguir:
- Lei nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, “os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (art.55).
- Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) que provocaram ainda mais o reconhecimento da formulação de políticas públicas da educação inclusiva, proclamando que
• Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem,
• toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas;
Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades;
• Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades;
• Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional (BRASIL, 1994, s.p.).
O documento de Salamanca, já citado na primeira unidade desse material, é considerado um importante passo na história da educação especial, pois ele retrata as principais características e necessidades da educação inclusiva, elencando vários fatores e caminhos a serem seguidos por todos os envolvidos na política de inclusão. No mesmo ano é instituído a Política Nacional de Educação Especial, que define-se alunado especial da seguinte forma:
Aquele que, por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Genericamente chamados de portadores de necessidades educativas especiais, classificam-se em: portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de conduta) e portadores de altas habilidades (superdotados) (BRASIL, 1994, p. 13).
Notamos, ainda, que após a definição dos direitos ao atendimento educacional especializado, o local e o público, acreditou-se que a inclusão iria acontecer, pois esse último documento apresentou as dificuldades da época no quadro de inclusão, apresentou os valores que norteiam o trabalho educacional com as pessoas com necessidades especiais, bem como defendeu a “elaboração de futuros planos estaduais e municipais de educação especial, que contenham as ações estratégicas a serem implementadas para a conquista e manutenção dos objetivos formulados” (BRASIL, 1994 p. 10), dessa forma, observamos que a sua proposta de integração escolar pautava-se no seguinte:
Processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo com as necessidades e habilidades dos alunos. A integração educativa-escolar refere-se ao processo de educar ensinar, no mesmo grupo, a crianças com e sem necessidades educativas especiais, durante uma parte ou na totalidade do tempo de permanência na escola (BRASIL, 1994, p. 18).
Neste contexto, na perspectiva de ensino inclusivo, observamos que a modalidade de Atendimento Educacional limita seu atendimento ao seguinte público:
Classe comum: Ambiente dito regular de ensino/aprendizagem, no qual também estão matriculados, em processo de integração instrucional, os portadores de necessidades especiais que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais.
Classe especial: Sala de aula em escolas de ensino regular, organizada de forma a se constituir em ambiente próprio e adequado ao processo ensino/aprendizagem do alunado da educação especial. Nesse tipo de sala especial, os professores capacitados, selecionados para essa função, utilizam métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, quando necessário, equipamentos e materiais didáticos específicos (BRASIL, 1994, p.19, grifo do autor).
Dessa forma, ao fazermos uma breve análise desse ideal, notamos que a inclusão não se efetiva satisfatoriamente, tampouco “provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum” (BRASIL, 1994, p. 3). A manutenção desses propósitos direciona a educação desses alunos apenas quando em classe especial.
Sendo assim, é na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96, art. 59, que os sistemas educacionais promovem aos alunos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organizações específicas, para atender às suas necessidades, bem como professores especializados/capacitados para o atendimento em todos os níveis de ensino, propiciando integração dos educandos nas classes (BRASIL, 1996).
Foi a partir de 2001, com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, que notamos muitos avanços no que se refere à educação inclusiva, mais precisamente, na Resolução CNE/CEB nº 2/2001, em que nos deparamos com uma descrição da organização dos sistemas de ensino e de seus deveres para com o educando
Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica. Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva (BRASIL, 2001, p. 1).
Ainda em relação ao Currículo e a educação inclusiva, observamos outros marcos para a educação especial inclusiva que foram elencados no documento oficial Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2007), tais como os que constam no quadro abaixo
Quadro 2.1: Marcos para a educação especial inclusiva
Fonte: Elaborado pelas autoras.
É válido ressaltar que os respectivos documentos supracitados ilustram a sequência das conquistas das políticas públicas no âmbito da Educação Especial Inclusiva, visando a formação de um currículo que busque o desenvolvimento dos alunos com necessidades especiais, contribuindo para a efetivação e democratização de uma educação inclusiva de qualidade.
Neste sentido, sabemos que promover a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais na escola regular implica em uma significativa reforma no sistema educacional, entre elas, flexibilização ou adequação do currículo, realizando uma mudança na forma de ensinar, avaliar, desenvolver atividades em grupos, além da mudança essencial na estrutura física, facilitando a circulação de todas as pessoas no ambiente escolar.
A Diversidade no Ensino Regular
Ao fazermos uma breve leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mais precisamente o Volume 10, notamos que são apresentados os temas Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Este material foi produzido em 1997, pelo MEC e traz temas transversais relacionados a meio ambiente, etnia, sexualidade, gênero, religião e cultura.
Sendo assim, ao falarmos em Diversidade devemos ter em mente a igualdade, equidade e justiça social, ou seja, todos somos iguais, principalmente, quando nos referimos à Educação, portanto, os métodos de ensino utilizados, hoje em dia, dentro das salas de aula são vistos como algo importantíssimo para a construção da igualdade, principalmente, ao tratarmos da educação inclusiva. Conforme preconiza Silva (1996), é na sala de aula que o professor se depara com diferentes indivíduos e deve descobrir as necessidades dessas individualidades, dando, assim, um tratamento específico com sua personalidade.
Quando nos referimos à Educação brasileira, devemos pensar sobre as novas propostas curriculares que foram realizadas após a Ditadura Militar, ou seja, após 1985, mas que foram interrompidas pela elaboração, no início da década de 1990, dos Parâmetros Nacionais Curriculares (PCNs) e os Referenciais Curriculares, havendo a padronização curricular da Educação. Esses documentos tratam também das questões que envolvem a diversidade em sala de aula, o que deixa claro, também, como deve ser tratada a questão dos alunos com necessidades especiais dentro de uma sala de aula.
Outro documento que deve ser citado e que faz parte dessa padronização curricular da nossa Educação é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, de 1996, coordenado pelo Banco Mundial e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em que retrata a qualidade da educação baseada em resultados numéricos.
A partir de 1990 foram organizados e distribuídos para todas as escolas públicas brasileiras os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), para o Ensino Fundamental e Médio e o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), em que encontramos orientações curriculares que asseguram uma base nacional comum, nos níveis descritos, de acordo com a definição apresentada na LDBEN. Segundo o Ministério da Educação, esses documentos não são modelos curriculares, pois cada Estado e Município podem elaborar suas propostas curriculares e pedagógicas, entretanto, servem de apoio para a efetivação de uma educação que respeita as diferenças dentro de uma escola.
Sendo assim, uma das premissas, citadas pelos PCNs, no que diz respeito aos anos iniciais do Ensino Fundamental, refere-se a uma escola que saiba trabalhar não só com a formação de cidadãos críticos, mas também que saiba trabalhar com as questões sociais:
A escola, ao tomar para si o objeto de formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, como objeto de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres (BRASIL, 1998b, p. 43-44).
Nesse contexto, a escola é vista como um ambiente estratégico para o reconhecimento e consideração em relação à diversidade, o que a torna um lugar voltado para o desenvolvimento de novos conhecimentos e formar novas competências, preparando os alunos para as novas condições de vida.
A política educacional, formulada nos anos de 1990, colocou a escola a serviço dos interesses da economia do mercado. Desde então, a diversidade cultural (entenda-se por população étnico-racial, indígenas, questões de gênero e diversidade sexual, educação do campo, educação especial) precisou ser inserida no espaço escolar, sendo inclusive trabalhada por diferentes áreas do conhecimento.
No mais, não podemos acreditar que todos esses temas são trabalhados na íntegra por todos os professores em sala de aula, e nem podemos colocar a culpa nos professores por essa defasagem de conteúdos no cotidiano escolar. Podemos citar como impedimento dessas ideias não só a falta de tempo do professor, mas também o seu despreparo para lidar com esses conteúdos e até uma certa relutância em trabalhar com temas tão complexos.
Dessa forma, se tais temas fossem trabalhados tal qual foi direcionado pelo MEC, esses conteúdos poderiam ser ministrados por meio de palestras, pesquisas em internet, exposição dos alunos, montagem de PowerPoint que exemplifiquem e enriqueçam o conteúdo e dê oportunidade ao aluno de conhecer e ampliar os seus conhecimentos sobre tais temas, facilitando uma socialização de ideias que retirem o preconceito e contribuam para uma formação voltada às diversidades culturais, só assim teremos mais alunos preparados para atuar com respeito às diferenças em nossa sociedade e a construção efetiva de uma educação inclusiva.